Muitas sensações me atravessam enquanto escrevo esta coluna. Uma delas é a ansiedade, porque é minha estreia neste espaço. Outra é a nostalgia, porque vou relembrar o marco mais famoso da história do cinema: A Chegada de um Trem à Estação, dos irmãos Lumière, de 1895.
O filme, que tem apenas 50 segundos, é um plano-sequência em perspectiva diagonal a partir da estação de La Ciotat. Nele, vemos toda sorte de pessoas que frequentavam uma estação de trem na virada do século XIX para o século XX: passageiros adiantados esperando, um carregador que quase atropela a câmera (sem fazer ideia do que aquele aparato era — e muito menos do que uma câmera se tornaria em nossos tempos) e, caso o choque ocorresse, tudo o que poderia se perder.
Ao fundo, surge um comboio vindo de Marselha — a estação de Ciotat liga as cidades de Marselha e Ventimiglia. Passageiros descem de uma carruagem: uma senhora elegante que carrega uma criança pela mão, um homem transportando um barril… O registro desse momento pueril — algo simples e frenético do cotidiano banal — mudaria a humanidade para sempre.
Pode soar pedante, mas é a verdade: o cinema mudou o mundo. Através dele nos vemos; através dele vemos os outros.
Particularmente, o cinema sempre me trouxe a vontade de viver outras vidas. Foi por esse fascínio que fiz faculdade de artes cênicas. Mas a suposta superfície da aparição não me bastava — eu queria as entranhas da imagem. Por isso, mudei de cidade aos 20 anos, em busca do sonho de trabalhar com produção audiovisual.
No começo, a tela era a da televisão, bem mais acessível. Depois fui, como não poderia deixar de ser, atravessada pela tela grande do cinema. À época, morava no prédio que fica quase em cima do Espaço Petrobras de Cinema. E, bem depois, já com a carreira desenrolada, fui cooptada pela telinha do celular (e quem é que não foi, nos nossos dias?).
Mas há também o poder da imagem. E, mesmo através dessa minúscula tela, tudo pode ser “Absolute Cinema”.
Voltando ao começo: os irmãos Lumière nunca se consideraram artistas. Eles se intitulavam — como todo homem respeitável daqueles tempos — cientistas. Auguste e Louis, fabricantes franceses de produtos fotográficos, inventaram um tipo de cinematógrafo. Mas muitos outros antes deles também disputavam a paternidade dessa invenção — Thomas Edison, inclusive.
O plot twist deste roteiro é que o cinematógrafo desenvolvido pelos dois, diferente de seus contemporâneos, unia num mesmo aparelho a câmera, que capturava as imagens, e o projetor, que as exibia. Ou seja, dois aparelhos maravilhosos em um só: a mais avançada tecnologia da época. É por isso que os Lumière são considerados os pais do cinema — pois uniram, num único corpo, a captura e a projeção das imagens.
Mas a caligrafia que transformaria a invenção mais impressionante de todos os tempos (antes da IA) em arte foi sendo desenvolvida aos poucos. Devemos muito a Georges Méliès, a Scorsese (outro realizador que elevou a sétima arte à categoria de sonho) — e ele sabia disso tão bem que, mesmo com os grandes estúdios de Hollywood torcendo o nariz, fez seu filme-homenagem ao diretor francês.
Alice Guy-Blaché, outra francesa que errou o timing por ter desembarcado cedo demais nas Américas, trouxe para a tela a sensibilidade das metáforas visuais. Se você não assistiu A Queda das Folhas (1912), pare agora de ler e vá ao YouTube. Nesse filme, não é preciso entender — “basta” sentir o poder das imagens nos atravessando.
Eu poderia ficar horas, dias, semanas falando sobre o Cinema, com C maiúsculo. Mas dedico este texto como uma singela homenagem à arte que mudou minha vida — e que muda vidas a cada instante em que a luz se faz.
Pois Deus fez a luz e viu que ela era boa (vejam só a pretensão das primeiras vezes: até Gênesis me permiti citar). Mas Ele não esperava que o homem criasse, a partir da luz, sua obra mais perfeita: o cinema.
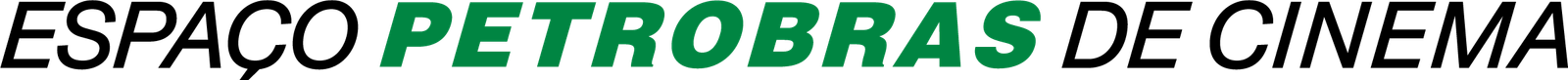






Leave A Comment